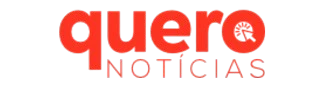Projeto do Instituto Terra, de Sebastião Salgado, atrai novos adeptos Aos 78 anos, o produtor rural Pedro Martins de Souza orgulha-se da decisão que tomou há quase 15 anos, de reflorestar seu sítio em Taparuba, em Minas Gerais, próximo à divisa com o Espírito Santo. Não foi, porém, uma decisão óbvia, e nem fácil. Sérgio Martins de Souza, um de seus 11 filhos, conta ao Valor que ele e seus irmãos uniram-se para convencer o pai de que plantar árvores poderia ser a solução para a secura do solo, que já prejudicava a plantação.
Leia também
“Plantio de água”: barraginhas ajudam a evitar seca nas lavouras
Pomares congelados: entenda técnica para proteger plantas da geada
“Começamos ‘pequeninho’ e depois, quando o pai foi vendo o resultado, ele aceitou aumentar a área”, diz. “Antes, para dar água pro gado, a gente tinha que buscar no vizinho de baixo. Depois que começamos a fazer esse trabalho, tem oito anos que nunca mais secou e consigo até fazer irrigação.”
A inspiração para a restauração veio de um programa de TV, mas foi o apoio técnico do Instituto Terra que permitiu à propriedade de Pedro e de seus filhos voltar a ter nascentes. Fundado em 1998 pelo renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e sua esposa, Lélia Wanick Salgado, o Instituto Terra trabalha em diversas frentes para promover a “restauração ecossistêmica”.
A iniciativa começou pela área própria do casal — atualmente, mais de 600 hectares dos 710 hectares da Fazenda Bulcão já estão restaurados. Mas ela se expandiu, e ao longo dos últimos 15 anos, chegou às propriedades vizinhas.
“Em 1998, o conceito de aquecimento global era algo distante, que pouco se compreendia, e os produtores rurais à nossa volta não entendiam o que a gente estava fazendo. Então, começamos a mostrar a eles que, usando técnicas regenerativas e sustentáveis, eles poderiam ter uma vida melhor”, diz Juliano.
Saiba-mais taboola
A iniciativa começou em 2010 com o objetivo de apoiar os proprietários rurais a restaurar a floresta nas áreas de nascentes para a água, aos poucos, voltar a jorrar. Até rios sazonais voltaram a correr o ano todo, beneficiando a população de algumas cidades próximas ao instituto. O Olhos D’Água, como o programa foi batizado, conseguiu recuperar 2 mil nascentes e atendeu mais de 1,1 mil pequenas e médias propriedades rurais. O repovoamento da terra exigiu mais de 7 milhões de mudas.
Pedro foi um dos pioneiros na região. Hoje, sua propriedade recebe constantemente visitas de estudantes de escolas da região, que a veem como exemplo de restauração. Os filhos do produtor rural, que moram em sítios próximos, também se beneficiaram. “O volume de água dobrou. O pai, que era resistente, agora abraça a causa, faz manutenção e não deixa o bezerro ir comer perto da nascente. O rebanho até diminuiu porque usamos parte da área pro plantio, que dá mais renda do que o gado. O pai até conseguiu comprar um carro zero”, conta Sérgio.
Nos últimos dois anos, diz Juliano, o instituto começou a estudar os sistemas agroflorestais e silvipastoris como uma forma de engajar ainda mais os produtores. Ao usar a pecuária como exemplo, ele explica que o pecuarista é, na verdade, um “agricultor de pasto”. Isso significa que, para garantir uma terra fértil para o pasto crescer, o produtor pode se valer de técnicas agroecológicas, plantando árvores que façam sombra e adotando o piqueteamento, técnica de divisão do pasto que assegura tempo para a terra se regenerar. Com isso, afirma ele, será possível, em poucos anos, elevar o índice de lotação, que é hoje de 0,6 gado por hectare, para 2,4 gado por hectare.
Segundo ele, o custo de implantação da técnica não é alto, e o maior obstáculo é mesmo cultural. Para isso, a principal estratégia de engajamento é dar referência aos produtores rurais: quando os primeiros produtores começarem a colher os frutos da iniciativa, acredita, outros vão se engajar.
Sérgio é um dos que aceitaram o desafio. Em três mil metros quadrados de seu sítio em Taparuba, ele plantou, há um ano e quatro meses, cacau como principal cultura comercial, junto com frutas — banana, manga, abacate, manga, cupuaçu, cajá-manga, acerola, tangerina e laranja —, legumes e tubérculos — pupunha, quiabo, milho, abóbora, mandioca e feijão — para criar a variedade de que o solo precisa. “Com 60 dias de plantio, comecei a comer o feijão da agrofloresta, e, logo depois, já colhi milho, quiabo, mandioca e banana. O bom é que o sistema está sempre trazendo uma ‘rendinha’, e isso te deixa animado”, disse ao Valor.
Por ora, afirma, ele consegue cuidar sozinho da plantação. Partiu dele a ideia de usar bagaço de cana dos alambiques da região como substrato para o solo.
O sistema está em fase de testes para avaliar diferentes arranjos, como consórcios de café, cacau ou frutas com espécies de árvores nativas. Também estão em análise as áreas de pastagens com floresta e os sistemas que englobam pecuária e espécies florestais.
Para mapear as vocações econômicas da região, o instituto montou um consórcio de instituições, escolas, consultorias e cooperativas. O FDC Agro Ambiental, da Fundação Dom Cabral (FDC), é uma delas.
Segundo Daniel Parreiras, diretor do FDC Agro Ambiental, o objetivo é identificar as cadeias produtivas mais promissoras para a região, seu potencial retorno financeiro e também os mecanismos de financiamento.
A jornalista viajou a convite da Zurich