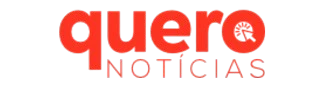Com entusiasmo, um senhor de 75 anos sobe no palco da tenda de palestras de uma feira agrícola no interior de São Paulo. É uma tarde de calor de setembro, e o público, atento, espera para ouvi-lo. O palestrante é o agrônomo holandês Hans Peeten, que foi chamado de louco ao trabalhar para ajudar a controlar a erosão nos solos do Brasil. A plateia ouve Peeten contar sua história, com a qual se confunde a evolução da produção agrícola nacional nos últimos 50 anos.
A erosão era o principal problema da agricultura brasileira nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Segundo pesquisa que o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) publicou em 1981, naquela época, o Estado perdia 1,8 bilhão de toneladas de solo por ano. A cada chuva, a água arrastava as terras para rios ou vales. Com o solo, iam fertilizantes, corretivos e sementes. O prejuízo era incalculável.
Nascido em Eindhoven em 24 de outubro de 1949, Peeten cresceu no campo. Na adolescência, ele ajudava familiares em cultivos de lavouras. Mais tarde, quando chegou o momento de escolher uma faculdade, optou por agronomia, que ele cursou na Wageningen University & Research.
Hans, o segundo de nove filhos de uma família de pequenos produtores, fazia o possível para ganhar algum dinheiro para se bancar nos estudos. Nas férias, assumia os cuidados com ensaios acadêmicos em solos arenosos. “A minha paixão já era pelos solos”, relata. No trabalho de campo, ele regulava a máquina para plantar sobre a palha, sem revolver a terra.
Em certo dia de outubro de 1973, Peeten recebeu um convite para um estágio de nove meses no Brasil. Ao chegar ao país, em fevereiro de 1974, para trabalhar em uma fazenda de Avaré (SP), assustou-se com o que viu. O preparo do solo na propriedade baseava-se no uso de grades e arados, que deixavam a terra nua para receber as sementes. Quando caíam as chuvas tropicais, acontecia a erosão.
O holandês chegou para testar a viabilidade do “plantio direto”, sistema em que a semeadura ocorre diretamente sobre a palhada da cultura anterior. “Na propriedade de Theodorus Daamen, em Campos de Holambra (SP), fiz os testes com a plantadeira. Depois, fui para o Paraná de caminhonete, levando o implemento”, conta.
Em Rolândia (PR), ele conheceu as experiências de Herbert Bartz (1937-2021), agricultor de ascendência alemã que havia começado a adotar o plantio direto em outubro de 1972. Era um raro produtor rural a tentar fazer diferente.
“Depois de conhecer o Bartz, fui para a região de Ponta Grossa. Lá, a situação era caótica, porque os solos eram muito rasos e a erosão estava acabando com tudo. Em Carambeí, uma colônia de holandeses, conheci o Franke Dijkstra, que também queria parar de usar o arado”, relata.
Ele retornou à Holanda em outubro de 1974. Peeten estava preocupado. Em alguns lugares, se os produtores continuassem arando a terra, as áreas se transformariam em deserto em pouco tempo.
Em 1976, já formado e casado, o agrônomo recebeu o convite de Dijkstra para trabalhar na revitalização da agricultura da região dos Campos Gerais do Paraná. Cooperativas pagariam seu salário.
Ele começou a fazer ensaios para propor soluções aos produtores. Muitos estavam desesperados. “O pessoal achava que a solução seria vender as terras e comprar outras. Quando um deles me disse isso, questionei: ‘Comprar outras para estragar de novo? Era preciso mudar a mentalidade”, afirma.
Mas abandonar os arados era algo inaceitável para a maioria. Peeten conta que chegou a ouvir insultos. “Mas não adiantava brigar. Eu tinha que demonstrar”, diz. Nesses esforços, viajou com uma comitiva de 20 agricultores, agrônomos e técnicos para os Estados Unidos, onde já se adotava o plantio direto desde a década de 1960.